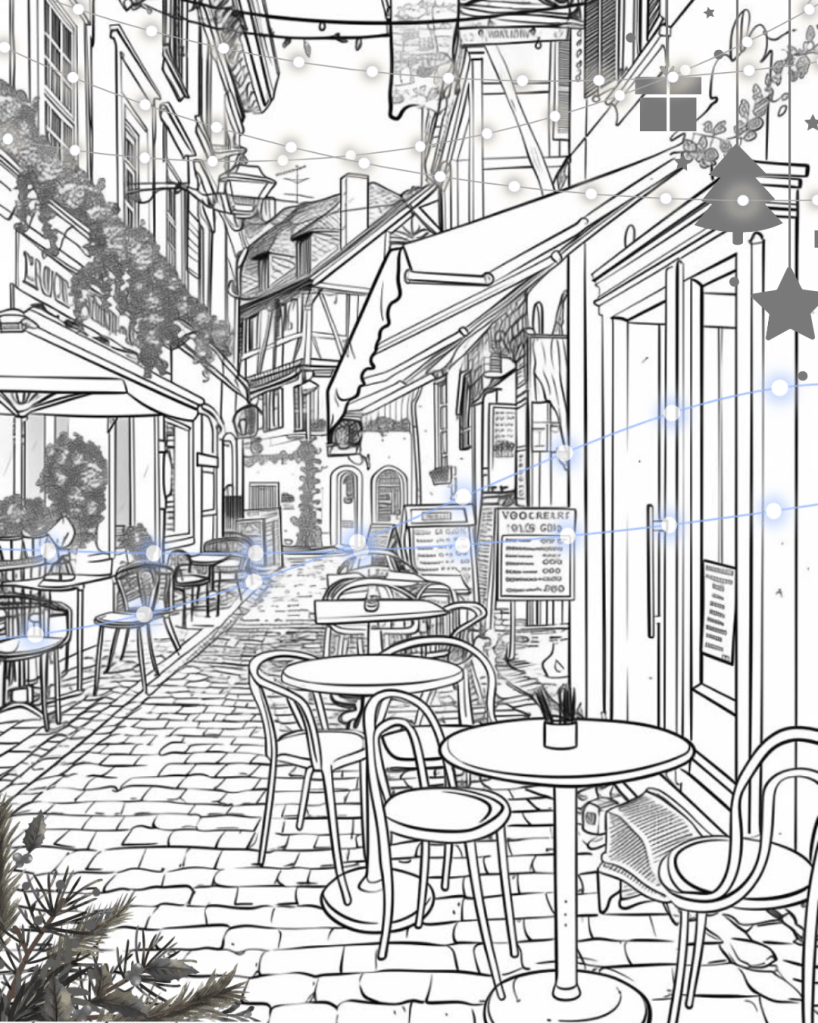Por Attilio Carattiero*
Para minha esposa, Maria Cármen.
… Então Palmerindo começou a falar.
— Sabe, moço, a vida é a certeza do incerto. É bordado teimoso que foge do risco imaginado. Foi assim num natal de muitos anos atrás. O senhor sabe que quando o mês de dezembro entra é uma quadra em que começamos a sentir o ar mais fino, ficamos com o coração mole e grandão. Nas vésperas de natal havia um combinado antigo no restaurante: terminado o serviço de almoço, depois de se colocar o salão nos conformes, ninguém trabalhava mais até o dia 26. Lugar de comemorar era em casa, essa era a ordem. O patrão tinha feito como sempre fez: colocou dentro da gaveta do aparador da cozinha os envelopes pardos pequenos com o dinheiro combinado do pagamento da semana, escrito de fora só o nome de cada um, com letra de mão e foi embora pro escritório. Nunca ninguém contou o dinheiro pra ver se estava direitinho. Sempre estava tudo direitinho, inclusive as moedas. Se era pra devolver algum adiantamento de vale quem tomava a iniciativa era o empregado no momento conveniente. Poucos usavam esse recurso. Punham o envelope no bolso e na saída cada um dizia, a seu tempo, sem momento definido, um ‘fica com Deus!’. Só assinariam o recibo feito no contador no fim do mês e nunca houve problemas. Uma relação de respeito e fio de bigode que já tinha mais de 30 anos. Não havia ponto a bater nem livro de assinar.
Uns três, a contar o cozinheiro, o garçom mais velho e o copeiro, tinham a chave da porta de entrada pras emergências ou cobrir saídas do dono. O patrão tinha o timão e ditava o rumo… O resto era o dom de cada um de nós que ele burilou e vigiava não perto. De vez em quando acontecia a incerta e lá vinha ele com aquele dedão grosso apontando o defeito. A cara era severa, separada da amizade, mas no fundo incorporava o Papai Noel com aqueles cabelos embranquecidos. Os olhos dele se ocupavam na reação da freguesia do salão. Atendia a pobre e rico com igualdade, cordialidade, civilidade. Gentileza e dignidade não têm cor, nem forma, nem cara, era tudo gente; gente merece respeito, dizia. Sempre foi assim.
Alguns empregados como o Sô Zé Alves, cozinheiro mestre, já tinham se aposentado ali na casa e continuavam. Os mais novos de casa seguiam o exemplo de ciência e aventuras do serviço de alquimia das comidinhas de qualidade, se bem que na hora do vamos ver ele era duro e seco nas ordens. Acontece que esse negócio de ser “chef” não tem charme de reportagem de televisão e revista ali dentro do caldeirão do trabalho. Parecia locomotiva a vapor: nada do sutil, tudo na força do combate para romper no tempo entregas perfeitas. Ali é na quentura, suor e presteza. Ali o que vale é a ordem do capitão e a obediência do ordenado. O lugar é de atrevimento, magia. Tudo cheira a bom, cuidadoso, limpo, fresco, honesto. É ali que repousa a fama da casa.
Nessa ambiência é que chegou o outro Zé, o Zézinho vindo lá do Ranchinho Novo, só isso se sabia. Não disse de onde vinha nem pra onde ia. Nem citou amigos nem parentes, nem trouxe papelório. Fazia um ano já. Que raio de caixa-pregos era esse lugarejo? Talvez da Bahia, norte de Minas, divisa, esse moreninho, deste tamanhinho, que media o tanto de ser menino virando gente antes do estirão; esperteza dentro da franzinice, tinha ditos engraçados, risonho de olhos e dentes, de bem com a vida. Nunca foi visto em desavença, nem em chamego e arrasto de olho com nenhuma mocinha. Futebol, bicicleta, banho no rio, nunca. Chegou num dia de princípio de janeiro, com uma mochila de poucas roupas simples, vontade de trabalhar e não pediu — foi entrando no coração de todos e do patrão sem pedir licença, que foi deixando, deixando, até que se instalou de vez. O dia do acontecido não tivemos lembrança.
Mostrou devagarinho pra nós que a vida é um cardápio que apreciamos de muito um pouco, bastando correr o dedo e escolher, se bastar apenas do que era apetecível; ter coisas e juntar não tinha a menor importância, e que felicidade era o encontro de nós todos, convivência. Sua noção de futuro não passava do tempo de esperar cozinhar uma verdura, montar um prato e remeter pra mesa. O amanhã era agorinha mesmo, com suas surpresas no destino traçado. Ano novo começou ontem. Quem esquenta cabeça é pau de fósforo e morre queimado, dizia.
Morar? Onde? Ele era como um bicho de rua que fugia de casa para bater pernas depois da lida do dia. Um cachorrinho de maneiras noturnas, um gato de telhados, e voltava na manhã seguinte faminto com a cara melhor desse mundo. Seu rosto mostrava ter acontecido altas coisas boas nas aventuras, mas nunca citou onde, nem quando, nem por quê, nem com quem. Apenas um sorriso e disposição. Já bastava. Quem queria se meter na vida de alguém, né?
Ele começou como boy de recados, de busca e entregas, passando depressa a acompanhar nas compras, depois ajudante de cozinha. Também se ajeitou de tomar conta da hortinha dos fundos que provia a cozinha de ervas frescas. Sô Zé Alves dizia que em breve seria hora dele começar a peitar o chefe e decretar o seu fim de carreira já movido a cansaço do peso da idade, pois ele levava jeito, brincava com sabores, bom de visão, olfato e memória de paladar, as receitas e maneiras todas no coração. Também dava uns palpites malucos na composição dos sabores que alegravam a quem comia e deixavam o velho cozinheiro desconcertado.
Nem lhe conto, moço. Nem é bom lembrar dessa última semana daquele dezembro. Foi nessa noite de véspera de natal quando estávamos na rua zanzando, era cedo ainda, não devia passar de oito horas. Estávamos muito desconfiados com o rapazote que desde a manhã andava arredio pelos cantos, olhando muito na cara da gente, mudo, pensativo, parecia que não tinha mais nada a ser dito, acho. Pouco beliscou a comida. Foi quando tivemos a brigada de quatro garçons e o pessoal da cozinha, uma sensação muito estranha, uma comunicação sem palavras e telefone, parecia telegrama preocupante antigo, arrepiado, contagiante. A mesma ideia no estampido do tempo — meu Deus, o restaurante! — e partimos para lá, cada um de onde estava. No caminho as janelas das casas e as portas abertas, palavrório de amigos e visitas, luzes piscando, enfeites, comerias, bebericagens, sons de festejos e jingle bells nas caixas de som, gargalhadas e sorrisinhos de crianças nas correrias de expectativas.
Chegamos arfando de tropel. Quem combinou? Nem sei. A porta estava trancada e enfeitada com aquele cordão de lampadinhas coloridas e piscantes. Quando abrimos veio lá no fundo a luz de parede da cozinha acesa. Corremos. Num banco entre as mesas estava o Zezinho deitado de pernas cruzadas, sonhando, um sorriso no rosto. Devia ser sonho bom aquele. Só que o sorriso não se desfazia, nem o peito fazia respiração. Dormia direitinho o danado. Mariinha sacudiu, chamou, arrepiou, emudeceu. Morto?
De repente? Um grande susto penetrou na gente. Subiu um gosto de notícia ruim na boca, um gosto salgado engasgado, fisgado na medula, que não combinava com alegrias de natal. Paralisia. O cozinheiro se adiantou e aventurou a apalpar no pulso, veia do pescoço, cabeça, sentiu que a friagem da noite já tinha começado a entrar nos poros do menino. Ficamos espetados em roda. Neuzinha doceira, Mariinha, Zé Alves, eu, Tião Garçom, Tico… Aquele menino, o Maneca, o Capixaba e o Alamiro. Chamar o patrão? Ele sabia das coisas e ajudaria… Polícia? Medicina legal? Testemunhas, fotografias, jornal, perguntas, suspeição… Não! Isso não! — Melhor pensar, disse o Tião Garçom e pegou uma garrafa de gole de caninha e sapecou os copos sobre o mesão. Sem precisar oferecer cada um de nós se serviu para clarear a cabeça, uma talagada das boas, meio copo. Minha nossa… O Zezinho! Outra rodada… Mais garrafa, mais uma. A cabeça já começava a desengrenar por causa do estômago vazio. Tínhamos que tomar a providência que não dava pé nos pensamentos. Veio uma ideia do Tião: antes de mais nada uma homenagem de irmão ao caçula, também questão de companheirismo, de amizade, antes que viessem tomá-lo da gente. O início de porre já fazia o pessoal pisar alto, perder o juízo da caixola, e, no meio, o frenesi do batuque do coração. Que tal dar uma lavada no corpo? Sempre tem alguém que fazia isso na praxe. Tínhamos notícia. E começamos a tirar a sua roupa. Minha nossa! Era quase menino ainda, uma criança!
Trouxeram a bacia grande, a esponja, sabão detergente, os panos de pratos. O enxague foi com água de cheiro de poejo, funcho, bálsamo, marcela e flor de malva, tudo vindo da horta, aí recendeu a memória de um cheiro antigo e gostoso de filhote de bicho que mama entrando nas narinas. Ô vontade de estreitar no peito, embalar no colo, esfregar no rosto aquela pele tenra! O senhor entende bem isso, eu sei. Aí começamos um riso frouxo incontrolado, besta mesmo, lembramos de suas histórias, os chistes bailavam nas bocas. Com carinho o deitamos enroscado no gamelão. Urgia um presente e lá fomos colocando tudo aquilo que ele apreciava, numa vinha d’alhos farta, desembestada, destrambelhada.
O sorriso não se desmanchou na sua face. Parecia que estava gostando daquela farra toda. Lembrou-me cara de anjo barroco, moleque divertido de igreja de Ouro Preto. As ideias ficaram brincando nas cabeças, bocas e nos ouvidos, sem freio nem manejo. Abrimos um bom tinto, depois o branco seco, jogamos o restante das garrafas e um tanto do copo na gamela ‘pro santo’, veio o sal, uma colher para cada quilo, açúcar e mel pro realce num contraponto do viver. Mariinha chorava as cebolas picadinhas tiradas da réstia, o monte de alho pisado no almofariz de bronze, tudo colocado no demolho junto com limão rosa espremido, a pimenta calabresa, malagueta, a do reino moidinha na hora, folhas de louro. Lembramos de novo das ervas finas frescas da horta e buscamos uma boa braçada. Na tábua, à ponta de faca, estavam presentes o manjericão, salsinha, cebolinha, hortelã, coentro, alfavaquinha… Era uma dança brava, balé ao ritmo de produção de salão cheio. A cada doação parecia que ele encolhia, ficava mais miúdo, rechonchudo, absorvia, devolvia a nós um entusiasmo aumentado do festim.
Cada um fazia a sua parte treinada. Cantávamos. Gente, gente! Só podia estarmos enlouquecidos! Sombras tremulavam nas paredes. Todos os sentidos alterados. Lembramos dos vidros de outros temperos, e veio abaixo a prateleira sob os lamentos de cada um, com o tomilho, sálvia, cardamomo, erva doce —…ai o abraço que não dei, o beijo refugado, a responsabilidade fugida! — alecrim, açafrão, kümmel, orégano — traí a quem gostava, rompi o combinado, saltei a paga! — manjerona, cerefólio — o meu filho foi pra São Paulo sem despedida, o rancor, que saudade! — estragão, uma colherinha de geléia de mirtilo, artemísia — o mau rumo escolhido, o amargor do caminho! — aniz estrelado, cúrcuma, páprica, colorau — perdão que não dei, a mágoa recolhida! — molho inglês, curry, gengibre — a mão que não estendi, as palavras ruins que pensei, escrevi, proferi! — shoyu e mostarda, noz moscada raladinha, depois dentes de cravo e pauzinhos de canela. Acertamos o sal com nossas lágrimas de arrependimento de todos os erros humanos dos anos sucedidos, empilhados. Ofertamos a ele tudo o que um dia perguntamos e foi respondido — eu gosto! — Por quê? Porque gosto, uai!
Aí veio o champanhe seco que estouramos, mais um copaço de aceto balsâmico e do comum, fios de azeite do bom.
O barulho do sino lá longe, lá na rua de baixo, chamou para a missa do galo e mais um corisco de realidade num lampejo de tino — Meu Deus, já era quase meia noite! Sorte nossa que as janelas fechadas abafavam e o povo estava muito ocupado com as festanças e as rezas. Quem passasse e ouvisse acharia que era comemoração interna nossa. Podia ser que estávamos indo longe demais! Qual é o limite do longe? Será-será?… Até que o Xerez foi aberto. A cerimônia ficou cada vez mais forte. Chegaram os licores. Ninguém queria ir embora naquela escuridão lá fora… Ficar sozinho com os acontecimentos rolando lá dentro? Nunca! Qualquer um poderia puxar a língua de bicudo e saber dos ocorridos.
A essa altura notamos uma mudança de cor no Zezinho — olhem!— uma passagem para uma resplandecência de luz com notas de dourado, muito boa de se olhar. Maravilha! Um feitiço gostoso do aroma no ar, redemoinho… O aroma tinha gosto; o gosto misturado com música; a música irmã da dança, do contato do corpo, do abraço, do toque da mão; tudo entrava e saía pelos olhos em muitas cores brilhantes, a quentura da pele, um arrodeado de sentimento do êxtase feliz, um gozo de explosão de fogos de artifício! Pronto! Estava no ponto. Maneca extasiado, cansado, arriado, se sentou e balbuciou contemplando — o corpo e o sangue, o vinho… Temos paio, bacon, abacaxi, manteiga da boa nata, farinha de milho, azeitonas… — Zé Alves cortou seco, rente, recobrando autoridade — Isso de recheio não, é canibalismo! Aqui é coisa séria! Questão de família!
Seu moço, nisso o senhor vai ficar com a gente… Então ponderamos e acreditamos que ele foi de viagem sem volta e deixou o corpo de presente para nós. Estava na hora de completar a tarefa. Tomamos a toalha de banquete, envolvemos aquela pessoinha. O Capixaba foi buscar o jipão velho não sei de que jeito, junto com o Tico que trouxe o fusquinha no zigue-zague, fizemos um embarque apressado com as ferramentas da horta. Parecia uma insólita e vagarosa procissão de dois carros de faróis apagados acompanhados por sombras, até que chegamos perto do encontro dos dois rios. Passamos a tronqueira à pé, abrimos o mato no peito. Na prainha, cavamos o chão raso. Entregamos o amigo à mãe terra com a mortalha de toalha bordada. Fechamos e regamos com o perfumoso caldo de nossas oferendas que restava no gamelão. Combinamos um círculo de silêncio, pernas bambas, estômago querendo devolução. Pela primeira vez olhamos pro céu, coisa que não fazíamos tem muitos anos por causa da pressa de viver. O céu estava cravejado de enormes estrelas piscantes, num universo de fundo escuro, exagerado, profundo, tipo presépio; parecia tempo criança quando a gente olhava aquele grande mistério redondo, fazendo perguntas. Diziam que apontar dava verrugas nos dedos, tantas quanto fossem.
Umas estrelas indicaram o caminho da casa de cada um e apagamos.
O despertador trincou o ar às seis da manhã. Cabeça estalando de dor e ressaca. Zonzeira. Quebradeira. Como chegamos? Pensei — Deus protege os bêbados e as crianças… Mas me perpassaram na cabeça uns retalhos de lembranças terríveis, bem recentes. Dei de telefonar pro pessoal… — alô, parece que ontem… Hoje. Fizemos umas besteiras das grossas, coisa grave… O quê? Dá medo… Você também telefonou? Estavam todos ligados numa mesma teia de aranha. Pânico. Frio nas partes. Atordoamento… Sim, será? Melhor a gente ir pro restaurante colocar os acontecidos em ordem, desembaraçar o fio do novelo, entendeu? Vai dar coisa muito feia, com certeza.
De repente estávamos afobados no lugar dos fatos confusos. A chave girou na fechadura, a luz amarela acesa lá dentro, entramos e fomos envolvidos e abraçados por um perfume intenso. Nossas mãos cheiravam assim também. Corremos à cozinha e no caminho havia alguns copos sobre as mesas com garrafas vazias. Mau sinal que aumentou a nossa apreensão. Imenso nó na garganta. Lá o gamelão estava encostado na prateleira, que era seu lugar, a toalha de banquete bordada dobrada em cima do mesão, alguns vidros de especiarias mexidos, panos. O restante em ordem. Do lado de fora a bacia dependurada. Na horta alguns pisões nos canteiros e uns ramos no chão. A cabeça latejava. Não era possível! Estava acertado — pros prejuízos faríamos uma vaquinha e se resolveria com o patrão… Mas e a prainha dos rios, os vestígios, provas?
Partimos pra lá numa correria, passamos pela tronqueira e desabalamos no caminho com o coração pela boca. Chegamos lá… Nem sinal de nada. Nem rastro. Apenas a areia lisa e o rio correndo lento. Paz de mata verde. Bem-te-vi cantou. Olhamos uns nos olhos dos outros, goela seca. Foi doideira? Piração de muitos juntos, igual? Grande espanto. Fizemos pacto de boca fechada. Não se tocava mais no assunto.
O tempo passou. Muitos não estão mais perto, por isso conto agora pro senhor. Tempo passado é remédio.
Mas, aqui, preste atenção: no nosso natal às avessas daquele dia aprendemos a olhar pra cima, ao invés de baixarmos a cabeça e fuçar o chão e os lados procurando felicidade. Felicidade está na troca, na convivência, no abraço, no momento do simples, no presente de corpo presente.
Meu amigo, caso é que Zezinho sumiu com suas coisas junto. Nem sinal dele até hoje. Ficou uma saudade leve de tempo bom. O patrão chegou à conclusão que ele pôs os pés no mundo atrás do seu destino. O menino se foi como chegou, caçou rumo… Mas nós, cá dentro do coração, tínhamos outra visão particular da história, com uma grande certeza… Também um punhadão de dúvidas.
E digo que foi assim. Se quiser acreditar acredite. Nunca vou me esquecer do fato… Talvez nem o senhor vai se esquecer desse relato. O senhor pode até fazer perguntas por aí, pode até especular, investigar. Mas se render eu nego e desminto, mas que foi assim, isso foi.
_______________________
*Attilio Carattiero é de Ipatinga/MG e colaborador da Árvore das Letras.